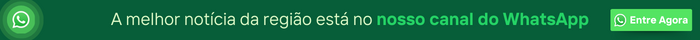Artigo: Noites juninas

Ainda pequeno, tinha eu uns sete anos, papai nos levou a uma festinha – que eu não sabia ser junina. O festeiro, seu Antônio Inácio, morava numa velha casinha de pau-a-pique, que ficava próxima ao local do ranchinho onde costumo fazer a sesta nas tardes de minhas férias.
Chegamos à noitinha. No terreiro, um alto mastro de madeira exibia uma estampa de Santo Antônio, o patrono do folguedo. Ao lado, toras cruzadas crepitavam ao sabor das chamas, aquecendo aquela noite de junho. Não havia lua; havendo, fora ela ofuscada pela fogueira e por nós ignorada. Havia chaleiras de café e muita batata doce, que púnhamos nas cinzas que iam se formando. Broa de fubá também havia, mas preferi as batatas, que eu mesmo cobria com cinzas e depois as tirava fumegantes. Havia também uma sanfona ‘8 baixos’, que seu Antônio tocava.
Lá pelas tantas, meu pai consultou seu velho relógio de bolso e disse: “Vamos embora, que já é meia-noite!” Um deslumbramento: nunca eu ficara acordado até meia-noite! Seu Antônio perguntou: “Quem vai ‘pular’ a fogueira?” E começou a preparar a passarela, quebrando as brasas, formando uma trilha pedregosa e incandescente.
Alguém se animou e passou. Depois outro e mais outro. Meu irmão mais velho, passou num galope e eu o segui. Impressionou-me o fato de sentir as brasas sob os pés descalços e não me queimar – uma proteção do santo milagreiro então festejado?… Mas a minha fé não era maior do que o medo das brasas. Por isso, fiz a travessia repetidas vezes, mas em poucas e velozes passadas. Meu pai também se aventurou. Com o caçula no colo – o bebê, que anos mais tarde seria missionário sacramentino –, caminhou lentamente por sobre o brasido, para espanto e admiração de todos. Com certeza, a sua fé, muito maior do que a minha, o salvou das bolhas.
Anos mais tarde, na escola onde fiz o primário, outra festinha aconteceu, desta vez de São João. Era sofisticada: tinha iluminação elétrica, bandeirolas, Quadrilha e Casamento do Jeca. Só que, para entrar, teria de pagar ingresso – de valor simbólico, é claro –, mas o que é ‘valor simbólico’ para quem não tem dinheiro? Eu não podia pagar e, na companhia do irmão mais novo e de um amigo, empreendemos uma burla. Havia um roçado nos fundos da escola, que no inverno virava um matagal de espinhos e carrapichos. Chafurdamos naquele mato até darmos na cerca de bambu, que rodeava a escola. A custo, abrimos um buraco e entramos um a um. Com a roupa amarfanhada, tendo que nos livrar dos espinhos e carrapichos, chegamos a tempo de participar. O sanfoneiro, seu Gentil, que eu conhecia da padaria, animava a Quadrilha. Enfim, chegou o momento mais esperado: o Casamento do Jeca. No ‘altar’, o Zé Amaury era o ‘seu vigário’; os ‘nubentes’: Zé Lourenço e Zita; havia também um ‘delegado’ para evitar que o noivo fugisse. Estavam adornados de roscas no pescoço e pães doces na cintura, mastigando sem parar. E o ‘padre’ deu início à cerimônia com: “Pelo sinal da santa lambança, por enquanto não entrou nada em minha pança!” – arrancando a primeira de outras tantas gargalhadas.
Outras festas aconteceram: modernas, teatrais. Essas duas, porém, ficaram cravadas na minha memória como as mais notáveis.
Hoje, já não há mais folguedos nem fogueiras. As noites juninas não são mais fagueiras e suas festas não são mais joaninas.
FILIPE